Brasília: histórias de sacrifício e silêncio marcam mito popular sobre corpos enterrados na construção da capital
22 novembro 2025 às 14h25

COMPARTILHAR
Brasília nasceu como um feito político grandioso. Sonhada durante décadas e transformada em meta de governo por Juscelino Kubitschek, a capital construída em apenas três anos mobilizou mais de 60 mil trabalhadores — muitos deles nordestinos que deixaram suas cidades em busca de uma vida melhor. Ao chegarem ao Planalto Central, porém, encontraram uma realidade muito mais dura: condições precárias, riscos constantes e quase nenhuma estrutura de apoio.
Nesse ambiente de desigualdade e invisibilidade, surgem as narrativas que atravessam gerações: histórias de candangos — como ficaram conhecidos os trabalhadores da construção civil — que teriam morrido e sido enterrados nos próprios canteiros de obra, sob monumentos que hoje simbolizam a modernidade brasileira.
Embora não haja qualquer registro oficial que comprove essas histórias, o imaginário popular as mantém vivas. Para o historiador Deusdedith Rocha Jr., do UniCEUB, trata-se do que ele e outros especialistas, chamam de Mito de Sacrifício Fundacional — um mecanismo simbólico pelo qual o povo tenta se reinserir na história da capital.
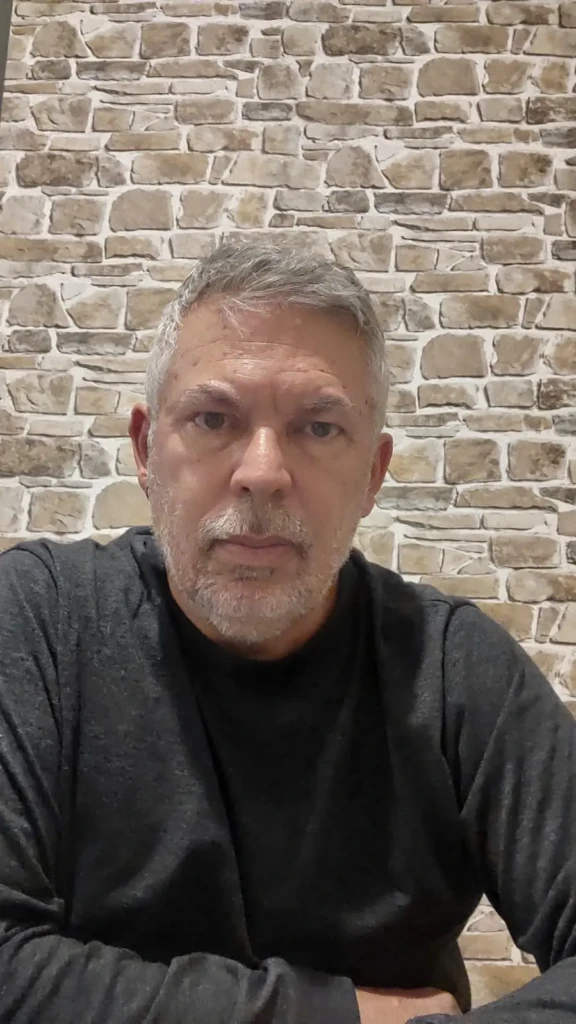
“O mito existe porque o povo tenta se colocar dentro da narrativa oficial da cidade. As histórias dizem: ‘nós estamos aqui, nossa história também está enterrada aqui’. É uma resposta ao apagamento dos trabalhadores”, afirma Deusdedith.
Razão, beleza e invisibilidade: os pilares da história oficial
A versão consagrada da construção de Brasília foi estruturada sobre dois elementos centrais: razão e beleza. A racionalidade do plano urbanístico e a estética monumental da arquitetura moderna compõem o núcleo simbólico da capital.
Mas, segundo Deusdedith, essa narrativa deixa de fora justamente os trabalhadores que ergueram a cidade: “O secreto tem a ideia da invisibilidade do trabalhador. Ele está no meio dos monumentos, mas não aparece na história.”
Esse apagamento abre espaço para que o mito cumpra seu papel: trazer à tona a história não contada.

O que a documentação oficial registra — e o que silencia
A Novacap documentou amplamente a construção de Brasília em dez volumes publicados antes mesmo de 1960. Mas essa documentação privilegia a história oficial — técnica, grandiosa, racional — e praticamente não menciona a precariedade dos canteiros, as mortes ou o tratamento dado aos operários.
O historiador Victor Hugo Tambelini Antunes Monteiro, do Arquivo Público do DF, afirma que apenas um episódio possui documentação sólida:
“O acontecimento mais relevante documentado é um desmoronamento na construção da UnB. Dois operários morreram soterrados e, na inauguração da Faculdade de Educação, Darcy Ribeiro os homenageou dando ao auditório o nome de ‘Dois Candangos’. É a melhor comprovação que temos. Apesar de plausíveis, não posso afirmar que haja restos mortais sob os monumentos.”
É a ausência de registros oficiais que alimenta o terreno fértil das narrativas populares.
A origem das histórias de desaparecimentos: o relato de João Carlos Amador
O jornalista, publicitário e escritor João Carlos Amador, pesquisador da história de Brasília, reforça que não há provas concretas sobre candangos sepultados nos monumentos. Mas destaca que os relatos de desaparecimentos eram numerosos e persistentes, especialmente nos canteiros das maiores obras.
“Nunca foram encontradas provas reais de candangos concretados. Mas existem muitos relatos de que isso aconteceu. A obra com mais ocorrências era o Congresso Nacional, por ser o maior prédio e pela pressa de entregar. Há vários relatos no Palácio do Planalto também.”

Segundo ele, a sensação, à época, era de que operários que sofriam acidentes simplesmente “sumiam”:
“Há muitos relatos de candangos que caiam dos andaimes e ninguém mais via o corpo depois. Era como se nunca tivesse acontecido.”
João Carlos também menciona depoimentos sobre ações deliberadas dentro da própria Novacap:
“Há histórias de que havia funcionários encarregados de ‘sumir’ com os corpos, justamente para evitar que as mortes abalassem os demais candangos e atrasassem o ritmo das obras.”
Embora impossíveis de comprovar, esses relatos contribuíram para consolidar o mito como uma explicação simbólica — e emocional — para o desaparecimento da vida real desses trabalhadores.
O primeiro cemitério da capital e o simbolismo de seu primeiro sepultamento
Até 1959, Brasília não tinha cemitério oficial. Isso significa que trabalhadores mortos antes dessa data dependiam de remoção para cidades de origem ou eram sepultados improvisadamente.
O Cemitério Campo da Esperança abriu sua primeira cova em 17 de janeiro de 1959, em um ato carregado de simbolismo: o primeiro sepultado foi o engenheiro Bernardo Sayão, diretor da Novacap e responsável pela rodovia Belém–Brasília — além de ter participado da implantação do próprio cemitério. Ele morreu em um acidente durante as obras da estrada.
Para especialistas, o fato reforça o contraste entre a visibilidade dos dirigentes e o anonimato dos trabalhadores.
Achados arqueológicos e cemitérios “engolidos” pela cidade
O historiador e arqueólogo André Moura, cuja pesquisa atual se dedica a sítios pré-históricos de até 8 mil anos no DF, afirma que a história da capital está repleta de lacunas:
“Nunca houve uma comissão governamental para investigar as mortes. As pesquisas são pontuais. É impossível saber quantos morreram. Meu próprio avô, candango, relatava incêndios, desabamentos e maus-tratos.”
Ele também relata descobertas feitas acidentalmente durante reformas. “Desde os anos 1990, reformas em prédios do conjunto arquitetônico encontraram restos mortais e até mensagens deixadas por construtores.”
Além disso, registros históricos mencionam cemitérios informais próximos aos canteiros e sepultamentos em antigas fazendas:
“Havia diversidade de cemitérios. A cidade cresceu por cima. Entre Sobradinho e Luziânia, havia sepultamentos que simplesmente desapareceram do mapa.”
Por que o mito escolhe o Congresso, a Esplanada e outros monumentos?
Para Deusdedith, esses locais carregam significados profundos:
- Congresso e Esplanada: símbolos máximos de poder, mas construídos sem registrar o papel do povo.
- Torre de TV e Lago Paranoá: ícones da beleza da capital, mas associados a sacrifícios invisíveis.
- UnB: um dos poucos locais com registro de mortes documentadas.
“É um mito de sacrifício fundacional. Ele corrige simbólica e popularmente o apagamento dos candangos.”
O mito como forma de resistência e pertencimento
Sem registros oficiais, sem investigações governamentais e com uma documentação que exalta razão e beleza, as histórias de desaparecimentos e sepultamentos surgem como resposta emocional e política ao apagamento dos trabalhadores.
O mito não precisa ser comprovado para cumprir sua função: ele devolve aos candangos o protagonismo que lhes foi negado. “Quando o mito diz que há corpos ali, ele está dizendo: ‘nossa história não está completa sem nós’”, resume Deusdedith.

